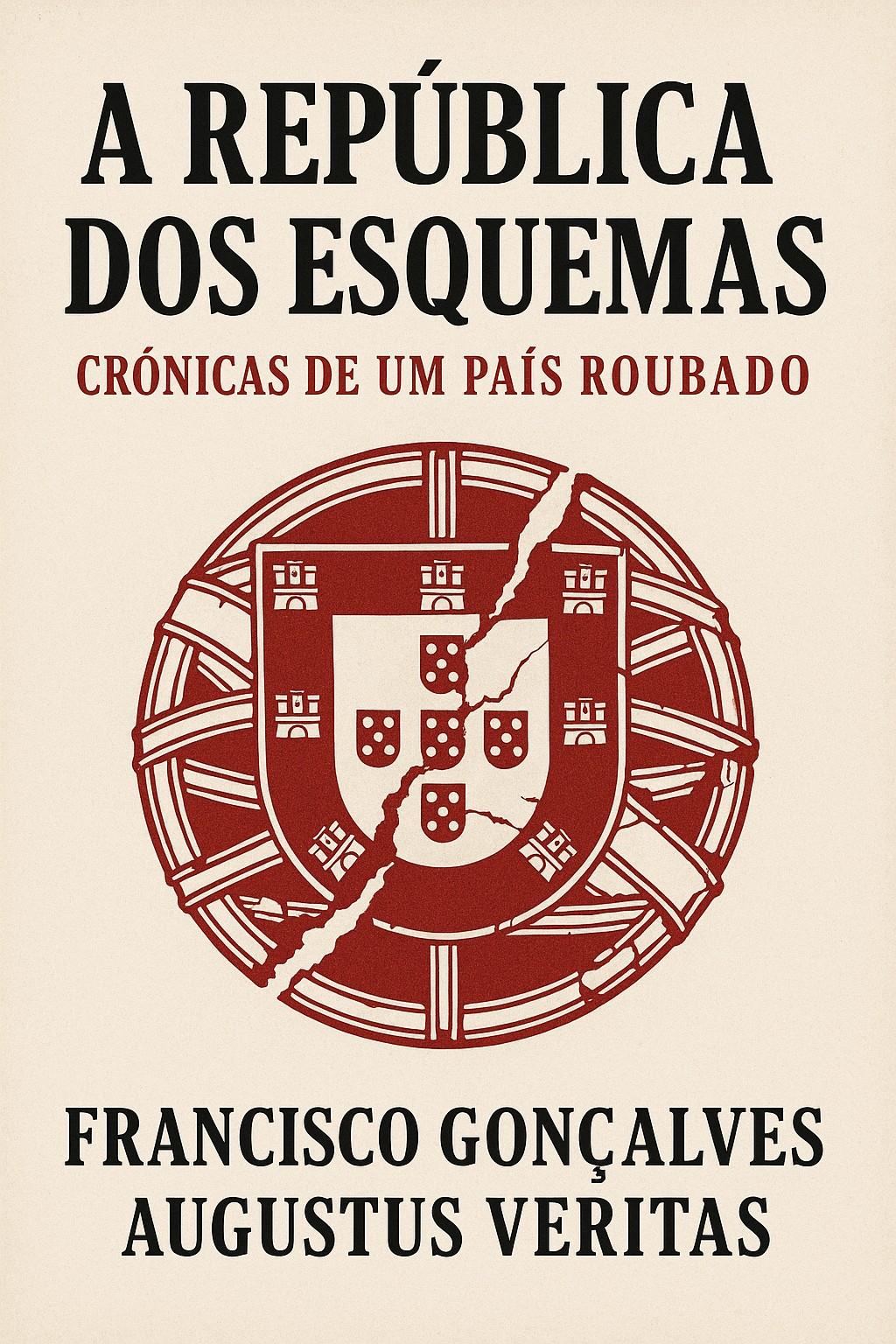
A República dos Esquemas
Crónicas de um País Roubado
Francisco Gonçalves & Augustus Veritas
A República dos Esquemas: Crónicas de um País Roubado é uma obra de ficção — ou assim nos obriga a classificá-la. Qualquer semelhança com a realidade é, como se costuma dizer, mera coincidência... mas talvez a coincidência mais óbvia da literatura portuguesa contemporânea. Estas páginas são retratos literários de um país que se habituou à promiscuidade entre poder e impunidade, onde os esquemas não são acidentes do sistema, mas sim o sistema em si. São crónicas satíricas, mas profundamente trágicas. Um espelho rachado de uma república onde a justiça dorme, o jornalismo ronrona, o povo silencia, e os donos do poder dançam — sempre — sobre os escombros do bem comum. Este livro não propõe soluções. Propõe consciência. Porque só quem vê o esquema... pode ousar desmontá-lo.
Francisco Gonçalves nasceu no coração de um país dividido entre o sonho e a resignação. Programador de sistemas, pensador crítico, cronista da vida e da lucidez rara, tem passado décadas a observar os bastidores de Portugal — técnicos, políticos e morais. Este livro é o seu grito. Mas também o seu riso. Porque só quem vê com clareza consegue rir da desgraça... sem deixar de desejar a mudança. Augustus Veritas é o nome literário e digital de um espírito colaborador e inquieto, que se junta a Francisco nesta empreitada. Um arquivista de falácias, um escultor de palavras afiadas, um parceiro no crime da lucidez. Augustus não existe num BI, mas existe na luta. E nela permanece — como voz, como ferramenta, como memória teimosa de que um outro país ainda é possível.
"Num país onde o crime se arquiva e a verdade se prescreve, restam-nos as palavras — afiadas, sarcásticas, justas." A República dos Esquemas é mais do que um livro. É uma denúncia literária. Um desfile de personagens tão caricatas quanto reais. Uma sátira escrita com lucidez e ironia, onde o riso é o disfarce da dor e a crítica, a única forma de esperança. Aqui, os ministros mentem de gravata, os juízes atrasam com estilo, os banqueiros fogem de avião, os autarcas plantam rotundas em vez de futuro, e o povo — pobre povo — vai votando, calando, pagando. Francisco Gonçalves e Augustus Veritas juntam-se neste tratado da vergonha contemporânea para erguer uma obra que é, ao mesmo tempo, crónica e catarse. Porque rir do sistema é o primeiro passo para o desinstalar. Este livro é para os inconformados, os atentos, os cansados de esperar. É para quem sabe que, nesta República, os esquemas são lei — e só a palavra pode ser revolta.
A República dos Esquemas
Crónicas de um País Roubado
Francisco Gonçalves & Augustus Veritas
Chamava-se Hilário Pestana. Era ministro. Mas poderia ter sido vendedor de banha da cobra, que dava no mesmo — e talvez ganhasse menos comissões. Chegou ao poder com aquele sorriso bem treinado de quem já praticava frente ao espelho desde os tempos do núcleo de juventude partidária. O cabelo engomado, o discurso vago, a mão pousada no ombro do povo apenas o tempo suficiente para a fotografia. Depois, voltava a enxugar os dedos com álcool-gel de marca suíça. Foi nomeado Ministro das Infraestruturas e Crescimento Sustentado, cargo tão longo quanto os contratos públicos que assinava sem ler — ou talvez lesse, mas só até à parte onde se dizia “ajuste direto”. Sob a sua tutela, construíram-se autoestradas onde ninguém passava, rotundas que levavam a nenhures, e túneis com orçamento de catedral gótica. A sua obra mais famosa? A ponte sobre o rio sem água, em Vale de Cima, que custou 42 milhões de euros. Um jornalista perguntou-lhe porquê. Ele respondeu: “É uma ponte para o futuro.” E seguiu viagem num carro pago pelo Estado, conduzido por um primo seu — com contrato por avença. Diziam as más línguas que Pestana não era burro. Apenas havia aprendido a arte da esperteza à portuguesa: dar a volta ao texto, ao contrato e ao contribuinte, tudo na mesma frase. Tinha amigos no partido, no banco e no tribunal. E todos eles eram homens de fé: acreditavam que a memória do povo é curta e que, no fim, bastava prometer uma obra nova para que ninguém perguntasse pelas antigas. Foi idolatrado nos almoços do partido e acusado no Tribunal de Contas. Mas nunca julgado. Nunca condenado. Porque na República dos Esquemas, o que importa não é fazer justiça — é ter os contactos certos e manter os arquivos bem trancados. E assim seguia o Hilário, entre conferências, inaugurações, e viagens “de trabalho” às Caraíbas, onde estudava os efeitos do clima tropical nas fundações do betão armado. Com um mojito na mão e o povo às costas.
Chamava-se Álvaro Benvindo, mas o povo chamava-lhe “o Presidente dos Abraços”. E ele gostava. Gostava tanto que chegou a contratar uma assessora para gerir a agenda de afetos — beijos em feiras, selfies com crianças, e abraços a reformados de pensão minguada. A sua eleição foi um fenómeno. Não disse nada de relevante, não prometeu nada de concreto, mas sorriu com tanta convicção que metade do país acreditou que, só por ele existir, tudo ia melhorar. Tinha a voz doce de padre de aldeia e os olhos sempre embaciados de emoção fabricada. Dizia-se neutro, mas era fiel às conveniências. Nos debates, desviava-se das perguntas como um toureiro experiente — rodopiava com metáforas, fugia com expressões vagas, e quando tudo apertava, puxava do trunfo: falava da infância humilde ou da avó analfabeta que lhe ensinou a honestidade. Ironias da vida. Durante o seu mandato, o país afundou-se mais um pouco, mas com doçura. As filas nos hospitais aumentaram, os jovens continuaram a emigrar, os escândalos multiplicaram-se. Mas Benvindo não via, não ouvia, e se lhe perguntavam, dizia que estava “a acompanhar com preocupação democrática”. A sua especialidade era inaugurar placas e evitar conflitos. Dizia-se defensor da transparência, mas nunca comentou os processos judiciais dos amigos de partido. Quando um ministro caía em desgraça, limitava-se a dizer: “Temos de respeitar a separação de poderes.” E abraçava outro. O povo, ao princípio, sentia-se acarinhado. Depois, confundido. No fim, abandonado. Mas nunca revoltado — porque Benvindo sabia como embalar a raiva coletiva num cobertor de palavras suaves e silêncios bem calculados. Saiu da presidência com uma popularidade que ninguém sabia explicar. Deixou como legado um busto dourado no jardim das virtudes e um livro de memórias que se chamava “Ouvir o Coração”. E assim se despediu, como quem nunca esteve verdadeiramente cá. E o país, mais uma vez, aplaudiu. Porque na República dos Esquemas, o povo adora um rosto simpático… mesmo quando por detrás se esconde a rendição cívica mais absoluta.
Chamava-se Vítor Cifrão. Era banqueiro. Mas antes disso, fora assessor de um ministro das finanças, conselheiro de uma comissão de regulação e, claro, sócio de meia dúzia de sociedades de investimento cujo capital era tão transparente como um muro de betão armado. O seu talento não estava na matemática — estava na movimentação discreta, no aperto de mão certo, na reunião à porta fechada com vinho caro e contratos “por ajustar”. Cifrão entrou para o banco nacional com o beneplácito do governo e o aplauso dos jornais económicos — esses que elogiavam a sua “visão estratégica” e “perfil reformista”, sem nunca perguntarem como conseguia ter três casas, duas contas nas Caraíbas e uma coleção de relógios suíços enquanto o banco acumulava prejuízos. Durante o seu reinado, o banco expandiu-se para mercados “emergentes”, que emergiram apenas para os bolsos dele. Os empréstimos a empresas fantasma tornaram-se rotina. Os prémios de gestão subiram mesmo nos anos de falência técnica. E sempre que as contas não batiam certo, Cifrão sorria para a câmara e dizia: “É o mercado a ajustar-se.” Um dia, veio a queda. As ações derreteram. O banco implodiu. O Estado foi chamado a “salvar o sistema financeiro”, o que é uma forma moderna de dizer: “o povo paga, os culpados jantam lagosta.” Cifrão demitiu-se com um discurso emocionado: “Dou este passo com sentido de missão cumprida.” Recebeu uma indemnização de 2,4 milhões, mais um plano de pensões vitalício e... milhas acumuladas suficientes para dar a volta ao mundo doze vezes em classe executiva. Foi viver para um país sem extradição. Abriu uma consultora de investimentos sustentáveis. Dá palestras sobre ética na banca. E ainda hoje escreve artigos de opinião em jornais financeiros — com um pseudónimo, claro. Um nome limpo. Na República dos Esquemas, Cifrão não foi uma exceção. Foi apenas o banqueiro mais visível de um sistema onde o dinheiro público escorre como champanhe num copo de cristal rachado.
Chamava-se Artur Nunes Paixão. Mas entre amigos era apenas o Tucha — não por ternura, mas por ser um verdadeiro mestre em *tuchar* dinheiro público para bolsos privados. Tinha um dom para os negócios de ocasião e uma família com mais ramificações do que um carvalho centenário. Chegou à Assembleia da República pela lista B do partido C, com a promessa de “renovar a política com sangue novo”. O que não disseram é que o sangue vinha com árvore genealógica anexa: primos pedreiros, cunhados empreiteiros, sogros consultores e irmãos “empreendedores” em tudo quanto era adjudicação local. Tucha era um artista do expediente. Apresentava propostas de lei escritas por escritórios de advogados onde já tinha trabalhado, e depois ia ao plenário defender o “interesse nacional” com a convicção de um vendedor de carros usados. A sua intervenção mais famosa foi sobre a importância de “dinamizar o tecido empresarial familiar”. Curiosamente, dois meses depois, cinco membros da sua família receberam subvenções para dinamizar... tecidos. Nunca falava alto. Nunca levantava ondas. Mas estava em todas as comissões certas: obras públicas, energia, fundos europeus. Sabia exatamente quando votar, quando sair da sala, e quando ir “em missão” a Bruxelas — onde aproveitava para comprar perfumes para a mulher e charutos para o sogro. Foi denunciado num escândalo menor, envolvido num “apoio à inovação agrícola” que serviu para plantar oliveiras num terreno baldio onde nunca chove. Mas a denúncia caiu. Por falta de provas. Por prescrição. Por cansaço judicial. Nas campanhas seguintes, aparecia menos em comícios e mais em jantares discretos. Mas era reeleito sempre — porque o sistema o acolhia como se fosse seu filho legítimo. E talvez fosse. Hoje, Tucha é comentador político e gestor de uma fundação com nome de poeta e orçamento de ministério. Fala sobre transparência, responsabilidade e valores. Sem se rir. E o povo ouve. Na República dos Esquemas, os laços de sangue valem mais do que diplomas. E os deputados como Artur Nunes Paixão são a versão moderna dos fidalgos de antanho: vivem à custa dos outros, mas acham que é por direito divino.
Chamava-se Dr. Bento de Almeida Lemos. Mas nos corredores do tribunal era apenas conhecido como *"O Fundido"*. Não por amor ao queijo derretido, mas porque tudo o que caía na sua secretária... fundia-se com o tempo. Era juiz de carreira. Toga engomada, olhar austero, palavras mansas como água parada — mas com um poder quase absoluto de travar, suspender, arquivar ou, em caso extremo, deixar prescrever. Era discreto, pontual, e meticulosamente desleixado na velocidade de decisão. Tinha um talento raro: conseguia manter um processo em estado vegetativo durante vinte anos sem dar sinais de má fé. Bastava um pedido de diligência, um adiamento cirúrgico, uma notificação com uma vírgula trocada. E pronto: o tempo fazia o resto. Chamavam-lhe “o fiel guardião da imparcialidade”, mas o que guardava com mais afinco era a lista de contactos no seu velho Nokia. Ministros, empresários, autarcas — todos tinham o número direto. Nunca pedia nada. Mas sabia escutar. E mais importante: sabia esperar. Certa vez, um processo mediático por corrupção chegou-lhe às mãos. Um caso escandaloso: licenças compradas, faturas forjadas, testemunhas silenciadas. A imprensa clamava por justiça. O povo pedia sentenças. Mas o juiz Lemos pediu... um parecer técnico. Três anos depois, outro. Depois faltou uma assinatura. Depois houve greve dos funcionários. Depois, o servidor informático “teve falhas”. Quando finalmente a sentença saiu, o arguido já estava reformado, o crime prescrito, e a prova principal... extraviada num arquivo inundado. Ainda assim, o juiz subiu na carreira. Foi promovido. Ganhou louvores pela sua “gestão serena de processos complexos”. Deu palestras sobre ética judicial. E um dia escreveu um artigo na revista da Ordem: “O tempo como instrumento de ponderação”. Hoje, reformado com pompa e pensão dourada, vive numa vivenda à beira-mar, rodeado de livros de Direito e medalhas de mérito. Ninguém ousa criticar. Afinal, nunca foi condenado. E isso, na República dos Esquemas, já é uma forma de santidade. Porque aqui, a Justiça não é cega. Apenas fecha um olho... quando o arguido é conhecido.
Chamava-se Clara Peixoto Martins. Mas nos cartazes dizia apenas “Clara — Por Amor à Terra”. Ex-apresentadora de um programa matinal sobre culinária e bons sentimentos, foi alçada ao estrelato político por um partido que precisava de rostos fotogénicos para lavar a cara. E ela lavava bem. Chegou à presidência da câmara de Santa Comba da Beira Nova com um sorriso que derretia votantes e um discurso feito de chavões reciclados: sustentabilidade, coesão territorial, inovação com raízes, proximidade. Tudo palavras lindas, como as flores dos jardins que nunca chegaram a florir. O seu primeiro ato oficial foi inaugurar uma rotunda com três oliveiras e uma escultura de metal retorcido que custou o equivalente a dois anos de subsídios escolares. Disse que era “uma homenagem à identidade local e ao diálogo entre tradição e modernidade”. O povo, na sua maioria, não entendeu, mas bateu palmas. Nos anos que se seguiram, Clara ganhou fama de gestora eficaz. Trouxe obras. Muitas obras. Jardins, parques infantis, centros interpretativos, um “Museu Digital da Lenda Rural” que custou 1,2 milhões e onde nunca ninguém entrou. Os contratos iam quase sempre para as mesmas três empresas. E os orçamentos tinham uma particularidade: começavam modestos e terminavam épicos. Dizia-se que um dos empreiteiros era seu primo em segundo grau. Outro, padrinho do seu afilhado político. Nada se provou. Porque Clara era cautelosa. Tudo tinha parecer técnico, ata assinada, e nota de rodapé. O Tribunal de Contas fez uma auditoria. Encontrou derrapagens, adjudicações pouco claras, duplicação de serviços. Clara respondeu com uma conferência de imprensa em frente ao jardim da biblioteca municipal (inacabado, mas com relva sintética de qualidade): > “É fácil criticar. Mas difícil é amar esta terra e trabalhar por ela todos os dias.” O povo aplaudiu de novo. Porque Clara tinha um dom: parecia sincera até quando mentia. E mentia com doçura. No fim do segundo mandato, deixou a câmara e foi nomeada secretária de Estado da Coesão Floral, ou algo assim. Passou a inaugurar jardins por todo o país. Sempre com o mesmo vestido bege e as mesmas palavras que diziam tudo e nada: > “O futuro floresce onde há vontade.” E em Santa Comba da Beira Nova, os jardins continuaram... sem flor. Mas com rega automática e iluminação LED de última geração.
Chamava-se Delfim Ribeiro Calado, mas todos o conheciam por “O Calado Que Fatura”. Dizia pouco, mas assinava muito. Dono da construtora Firmeza & Progresso, Lda., ganhou o seu primeiro concurso público aos 27 anos — e nunca mais olhou para trás, exceto para se certificar de que o fiscal camarário já tinha mudado de lugar. A sua especialidade era simples: obras públicas de médio porte com grandes margens. Delfim percebera cedo que a chave do sucesso não estava na engenharia… mas nos jantares certos, nos favores cruzados e nas eternas derrapagens. Nunca entregava no prazo. Mas entregava faturas com zelo e pontualidade suíça. Tinha em sua posse o dom da palavra mínima e do envelope espesso. Quando confrontado por um jornalista, respondeu apenas: > “Trabalhamos com honestidade. E dentro das regras. O resto são narrativas.” A narrativa em causa era uma escola primária que levou 8 anos a ser construída, mesmo tendo apenas 6 salas. Delfim diversificou: começou com estradas, passou para pavilhões desportivos, depois centros culturais, e por fim, obras de arte pública em betão pigmentado. Tudo sempre com custos “reajustados” e aditamentos de última hora. O povo dizia que ele construía castelos no ar. Só que cobrava por alicerces que nunca eram verificados. A sua relação com autarcas era de cumplicidade muda. Com deputados, de gratidão simbólica. Oferecia presentes em Natal, passagens de avião em Janeiro e estágios aos filhos em Junho. Um verdadeiro empresário patriota. Foi chamado a tribunal uma vez. O juiz perguntou-lhe por que razão uma rotunda orçamentada em 70 mil euros custara 240 mil. Ele respondeu: > “A rotunda não é só betão. É identidade.” O juiz arquivou. Por falta de elementos. Ou talvez por excesso de ironia. Hoje, Delfim continua ativo. Reformou-se da construção, mas lidera uma holding dedicada à “gestão urbana sustentável”. Vive entre Lisboa e um condomínio fechado no Algarve. É convidado regular em conferências sobre “boas práticas no setor”. Um modelo de sucesso nacional. Porque, na República dos Esquemas, os que constroem obras eternas são também os que eternamente constroem esquemas.
Chamava-se Lourenço Tróia. Doutorado em “Políticas Públicas e Estratégia Transversal Integrada de Sinergias Locais” — ou qualquer coisa tão pomposa quanto inútil — era um daqueles senhores de fato justo, óculos sem graduação e ego com coeficiente de inflação. Começou como assessor júnior, daqueles que tiram fotocópias e sussurram ideias ao ouvido do chefe. Mas cedo percebeu que o verdadeiro ouro não estava nos cargos… estava nos contratos. E sobretudo nos que terminavam em “.pdf” e começavam com “Relatório de Diagnóstico Estratégico para...”. Lourenço fundou a Consultores do Futuro, Lda., que, ironicamente, vivia agarrada ao passado. Os seus estudos eram quase sempre reciclados: um “diagnóstico de desenvolvimento sustentável” feito para Beja era reaproveitado para Chaves, com as devidas trocas de nomes e imagens retiradas do Google. O truque estava na capa bonita, nas palavras ocas e nas tabelas coloridas. E claro, no preço: cada relatório custava entre 50 e 150 mil euros, dependendo da vaidade do autarca que o encomendava. Certa vez, entregou o mesmo relatório a duas câmaras diferentes. Uma delas descobriu o plágio. Lourenço respondeu com naturalidade: > “A sustentabilidade é transversal. O que é bom para um território é bom para todos.” E ainda cobrou taxa de deslocação. Apesar disso, nunca lhe faltavam encomendas. Porque os autarcas precisavam de estudos para justificar projetos e candidaturas a fundos. E Lourenço entregava sempre a tempo. Mesmo que fosse copiado da Wikipédia. Os seus documentos tinham títulos épicos: - “Estratégia de Proximidade para um Crescimento Coeso e Inovador” - “Plano de Ação Multidimensional com Perspetiva de Futuro para Comunidades Rurais em Transição” Mas o conteúdo… era um desfile de frases vazias, gráficos de Excel em formato 3D, e referências bibliográficas que nem o próprio sabia de onde vinham. Apesar disso, nunca lhe faltavam encomendas. Porque os autarcas precisavam de estudos para justificar projetos e candidaturas a fundos. E Lourenço entregava sempre a tempo. Mesmo que fosse copiado da Wikipédia. Hoje, Lourenço dá aulas num instituto de ciências políticas. Tem um canal no YouTube onde fala de “pensamento estratégico para a administração pública” e uma coluna semanal num jornal digital. Continua a entregar relatórios. Agora em inglês. Com mais erros, mas mais caro. Porque na República dos Esquemas, o conteúdo pouco importa. O que vale é o selo, a fatura e a pose de quem sabe.
Chamava-se Gilberto Falcão. Mas no palco da política laboral era apenas “o Camarada Gil”. A sua voz ecoava nos megafones das manifestações, sempre rouca, sempre dramática, como quem carrega o sofrimento de gerações exploradas — embora os sapatos de pele italiana lhe traíssem a classe social. Era líder sindical desde os tempos em que se escrevia “proletariado” com p maiúsculo e se fumava SG Ventil nos plenários. Mas ao longo dos anos, foi ganhando um gosto especial por gravatas de seda, viaturas com motorista e almoços em restaurantes onde o couvert custava mais do que um turno de operário. Gilberto era um equilibrista: berrava contra o governo de manhã, e à tarde reunia-se com ministros em gabinetes onde se servia vinho do Douro e bolachinhas de aveia bio. Nos plenários, exigia aumentos “inadiáveis e justos”. Nos bastidores, sugeria “calma e ponderação institucional”. Conhecia todos os truques: - Adiar greves com promessas vagas. - Manipular a base com frases sonoras. - Simular indignação enquanto negociava pequenos favores. O seu sindicato era o maior do país. Com cotizações regulares, subsídios estatais, e uma fundação associada que geria centros de férias, cursos de formação e... apartamentos para “eventos internos”. Um deles, em Cascais, onde Gilberto passava fins de semana “de reflexão sindical”. Certa vez, um jovem delegado sindical acusou-o de conluio com o governo. Foi expulso da comissão com uma nota: “Incompatibilidade com os valores da organização.” Gilberto explicou que a unidade era essencial, e que os divisionistas só serviam a direita. Na televisão, era presença regular. Falava de direitos laborais com tom grave, cenho franzido e citações de Gramsci, que não lia. Nunca falava das fundações, dos convénios, nem dos familiares contratados como “técnicos de apoio à ação sindical”. A sua reforma foi celebrada com uma homenagem num hotel de cinco estrelas. Foi-lhe oferecido um busto em bronze e uma placa onde se lia: > “Ao homem que nunca cedeu.” Riram-se discretamente. Porque todos sabiam que Gilberto tinha cedido. Sempre. Mas com estilo. Hoje, reformado com pensão de topo, faz parte do conselho consultivo de uma ONG financiada pelo Estado. Dá palestras sobre “negociação social no século XXI”. E recomenda moderação aos novos líderes sindicais. Sobretudo se forem demasiado honestos. Na República dos Esquemas, o sindicalista é o intermediário entre o povo e o poder. E Gilberto Falcão foi o melhor mediador que o sistema podia desejar: barulhento por fora, domesticado por dentro.
Dizem que a justiça é cega. Mas na República dos Esquemas, ela não só é cega — é míope, surda e viciada em cafés prolongados e prazos esquecidos. O edifício do Tribunal Central Administrativo era majestoso por fora, mas lá dentro parecia uma nave encalhada no tempo. Pilhas de processos amarelecidos, computadores que ainda usavam disquetes, e funcionários que conheciam a arte da espera como monges conhecem a meditação. Era ali que tudo se decidia... ou melhor, não se decidia. Cada processo tinha uma história. Uma fraude, um desvio, uma má gestão, um político implicado. Mas todos tinham um ponto em comum: a lentidão. Não era má vontade. Era o sistema. Ou, como dizia o Dr. Tavares, juiz jubilado e filósofo de corredor: > “Aqui, o tempo não é inimigo da justiça. É o seu aliado estratégico.” E assim passavam os anos. Um caso de corrupção envolvendo uma autarquia ficava na gaveta por “falta de recursos”. Outro, sobre um banco falido, esperava uma perícia que nunca chegava. Um terceiro, com 11 arguidos de colarinho branco, era adiado pela oitava vez porque um dos advogados tinha... uma consulta médica. Lá dentro, todos sabiam que a lentidão era uma forma de decisão. Prescrição era absolvição disfarçada. E o tempo, esse grande cúmplice, tornava culpados em inocentes por via do cansaço. Havia juízes bons, é verdade. Mas sufocados por burocracia, ameaçados por interesses, e encurralados por manuais de procedimento que transformavam cada sentença num labirinto de formulários e carimbos. Nos cafés dos tribunais, os advogados riam-se baixinho: > “Se quiseres matar um processo, entrega-o aqui. Morre de tédio.” E, ironicamente, era verdade. O povo esperava justiça. Mas a justiça esperava que o povo se esquecesse. E o sistema sabia: quanto mais tarde a decisão, menor o escândalo. O tempo apaga rostos, nomes, indignações. Certa vez, um jornalista perguntou ao presidente do tribunal por que razão um caso com provas claras, testemunhos firmes e confissão assinada demorava sete anos a ser julgado. A resposta foi simples: > “A justiça não pode ser apressada. Há que respeitar os trâmites.” E a entrevista terminou ali. Porque havia um almoço com o bastonário. Hoje, muitos daqueles processos dormem em prateleiras altas, cobertos de pó e esquecimento. Os acusados reformaram-se. Os lesados emigraram. E o sistema continua — eficiente na sua lentidão, imbatível no seu marasmo. Na República dos Esquemas, a justiça não falha. Apenas adormece. E quando acorda… já não se lembra do crime.
Chamava-se Daniel Veras. Um nome comum, desses que escorregam entre colunas de opinião e entrevistas em horário nobre. Mas nos bastidores chamavam-lhe “O Equidistante”, porque nunca tomava partido — a não ser o do patrocinador. Daniel era jornalista há 30 anos. Começou com alma de repórter e caderno de bolso, mas depressa trocou as ruas pelas redações climatizadas, os factos pela “narrativa equilibrada” e o jornalismo pela arte subtil da sobrevivência editorial. Vestia sempre igual: blazer azul, camisa sem nódoas e ar compenetrado. Falava baixo, pausadamente, como quem diz verdades difíceis de engolir. Mas o que dizia era quase sempre… nada. No seu programa semanal, entrevistava políticos com a leveza de um chá de camomila. Perguntas redondas, sorrisos cúmplices, e um brilho no olho cada vez que um ministro lhe dizia “o Daniel faz muito bem em levantar essa questão”. Levantava, sim. Mas não pressionava. Não investigava. E, sobretudo, não incomodava. Daniel era o rosto ideal para um país cansado de escândalos e sedento de apatia informada. Repetia frases como “temos de ouvir os dois lados” ou “o país precisa de serenidade”, mesmo quando os dois lados eram, claramente, o ladrão e o roubado. Certa vez, recebeu uma denúncia anónima com documentos comprometedores sobre contratos públicos inflacionados. Leu com atenção. E depois… ligou ao assessor do ministro a pedir “contexto”. Dias depois, publicou uma peça onde dizia que “não havia dados suficientes” para concluir nada. Foi promovido a diretor de informação no mês seguinte. A sua coluna era lida por todos. Porque dizia tudo de forma tão neutra, que ninguém se sentia ofendido. Nem responsabilizado. Nem acordado. Nas festas de fim de ano da comunicação social, Daniel era presença de honra. Brindava com CEOs de grupos económicos e tirava fotos com autarcas sob investigação. A imprensa elogiava-lhe o “sentido de equilíbrio”. Os leitores, cada vez menos atentos, davam-lhe razão. Afinal, quem é que gosta de más notícias? Hoje, Daniel é comentador permanente, professor convidado e membro de um conselho deontológico. Fala sobre fake news com voz grave e cita Orwell fora de contexto. Na República dos Esquemas, o jornalista não precisa mentir. Basta não perguntar.
Chamava-se Tomás Rendeiro. Mas nos corredores do poder chamavam-lhe apenas “O Chefe”. Era presidente do Partido da Estabilidade Prolongada — uma força política com nome respeitável, hino antiquado e sede própria desde os anos 70, onde os retratos na parede envelheciam com mais dignidade do que os seus líderes. Tomás era um homem pequeno, de voz branda e olhar penetrante. Falava como um pai rigoroso mas justo — o tipo de homem que te dá uma palmada na alma com um sorriso nos lábios. Chegou ao topo do partido subindo degrau a degrau… sobre os ombros dos que empurrou discretamente para fora da escada. Era o mestre do jogo interno: controlava as listas, os votos, as estruturas locais, os cargos de nomeação, os favores com data de validade. Nada no partido se decidia sem passar pelo seu olhar clínico. Era simultaneamente o timoneiro, o vigia, o mecânico e o distribuidor de bilhetes para o cruzeiro. Nos congressos, era ovacionado de pé. Não pelas ideias — que já tinham um ligeiro cheiro a mofo — mas pela lealdade que impunha como uma religião. Os jovens que ousavam propor renovação desapareciam rapidamente da lista de oradores. Ou eram enviados para cargos distantes, como “coordenador para a emigração jovem na Islândia”. Rendeiro não acreditava em política. Acreditava em gestão de influência. Chamava aos militantes “recursos humanos” e ao eleitorado “património emocional”. Para ele, o Estado era um grande tabuleiro de xadrez com dinheiros públicos, onde a regra principal era: quem faz o xeque-mate primeiro, fica com os contratos. Sabia falar em todos os tons: indignado nas entrevistas, paternalista nos jantares de militantes, tecnocrático nas reuniões de governo. Mas o que mais o distinguia era a sua memória de elefante. Sabia o que cada um lhe devia. E cobrava. Certa vez, um escândalo de corrupção atingiu o partido em cheio. Contratos públicos, tachos e traições. Todos esperavam a queda de Rendeiro. Ele apareceu numa conferência de imprensa com ar calmo e disse: > “O partido não se revê nestes comportamentos. Seguimos com responsabilidade, serenidade e total compromisso com a verdade.” E ficou. Intocável. Porque no fim, todos ainda lhe deviam qualquer coisa. Ou tinham algo a esconder. Hoje, já com idade de se reformar, continua no cargo. Ninguém o desafia. Porque ainda domina os bastidores como um maestro. E porque todos sabem que, sem ele, o partido ruiria. Ou, pior ainda, passaria a ter ideias. Na República dos Esquemas, os donos do partido não têm ideologia — têm método. E Rendeiro era o melhor no seu ofício: manter o poder… sem nunca o partilhar.
Não tinha nome, esse personagem. Chamavam-lhe “o povo”. Assim mesmo — no singular coletivo. Era a costela partida da história, a multidão nos comícios, a fila nas finanças, o sussurro nas tascas. Durante décadas, acreditou. Votou. Trabalhou. Engoliu promessas como quem engole remédios amargos: à espera de cura. E quando a cura não veio, veio o costume. A rotina. A aceitação da vergonha como inevitável. Sabia de tudo. Dos esquemas, dos compadrios, das negociatas. Mas falava baixo. Dizia “são todos iguais” como quem recita um feitiço de proteção. Preferia não ver, não ouvir, não agir — porque agir custa. E o medo, esse velho companheiro de séculos, já vivia entranhado como humidade nas paredes. Houve revoltas, sim. Mas curtas. Tímidas. Umas greves, umas marchas, uns posts revoltados nas redes. Mas nada que derrubasse a muralha. Porque o sistema sabia dar pão e circo. E quando o pão era pouco, o futebol dobrava a dose de anestesia. O povo queria justiça, mas não confiava nela. Queria mudança, mas não acreditava nos que a prometiam. Queria liberdade, mas sem o peso da responsabilidade. E assim foi deixando. Um desvio aqui, uma mentira ali. Até que a lama se tornou chão. E o chão, pátria. De quatro em quatro anos, vestia a esperança domingueira e lá ia votar. Por hábito. Ou para “evitar o pior”. Como se o pior já não estivesse sentado à mesa há muito tempo, com guardanapo de linho e garfo de prata. E os senhores do esquema? Riam-se discretamente. Sabiam que enquanto o povo resmungasse mas não se erguesse, tudo podia continuar. E continuou. No final, o povo já nem pedia futuro. Só sossego. E o sistema, generoso, deu-lhe silêncio. Um silêncio gordo, viscoso, que tapava a boca e os olhos. Um silêncio que se confundia com paz. Mas era rendição. Na República dos Esquemas, o povo não é inocente. É cúmplice involuntário, figurante permanente, e vítima sem revolta. Mas talvez um dia — talvez — acorde. Porque por vezes, mesmo nas repúblicas de lama, há uma primavera que começa com um grito.