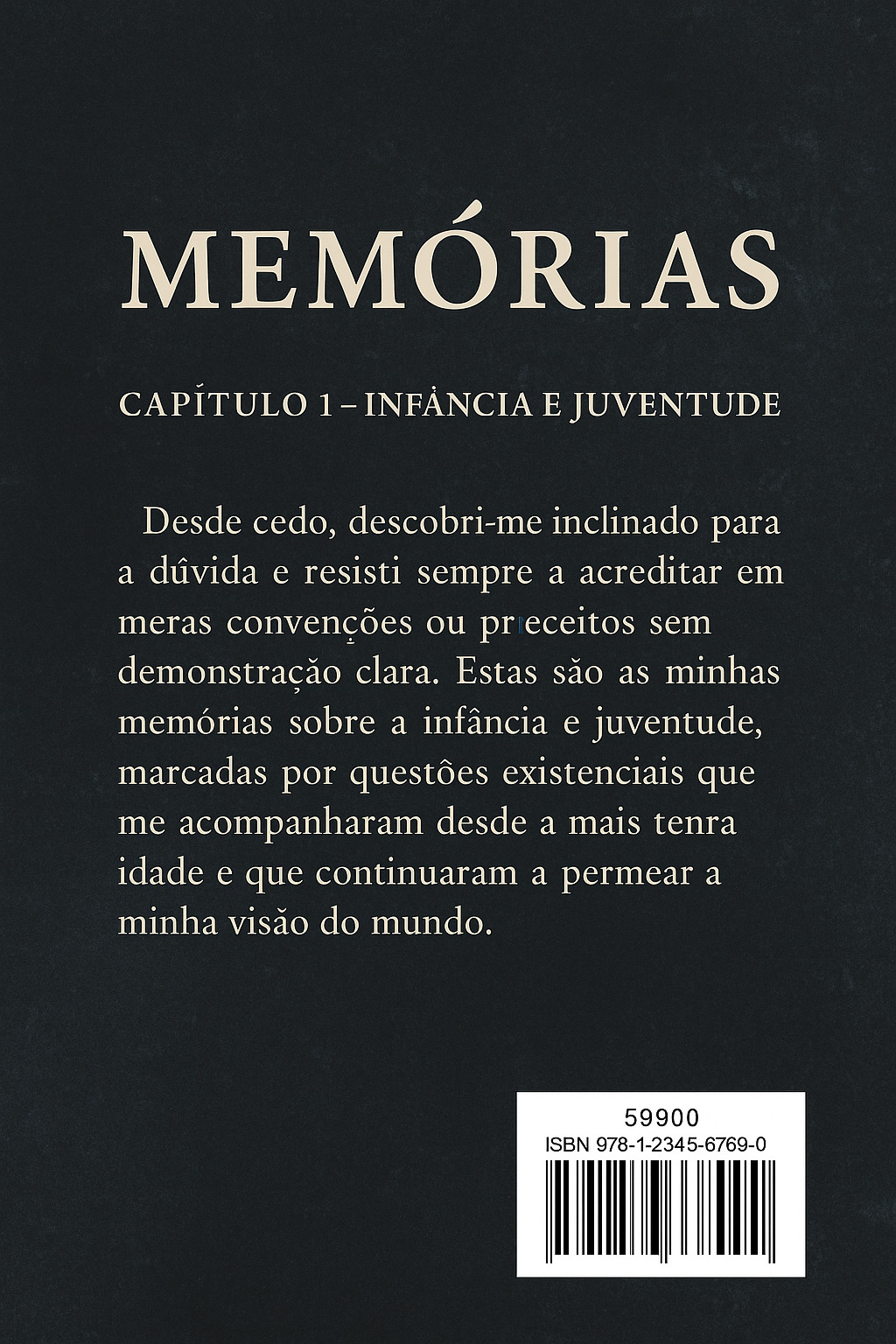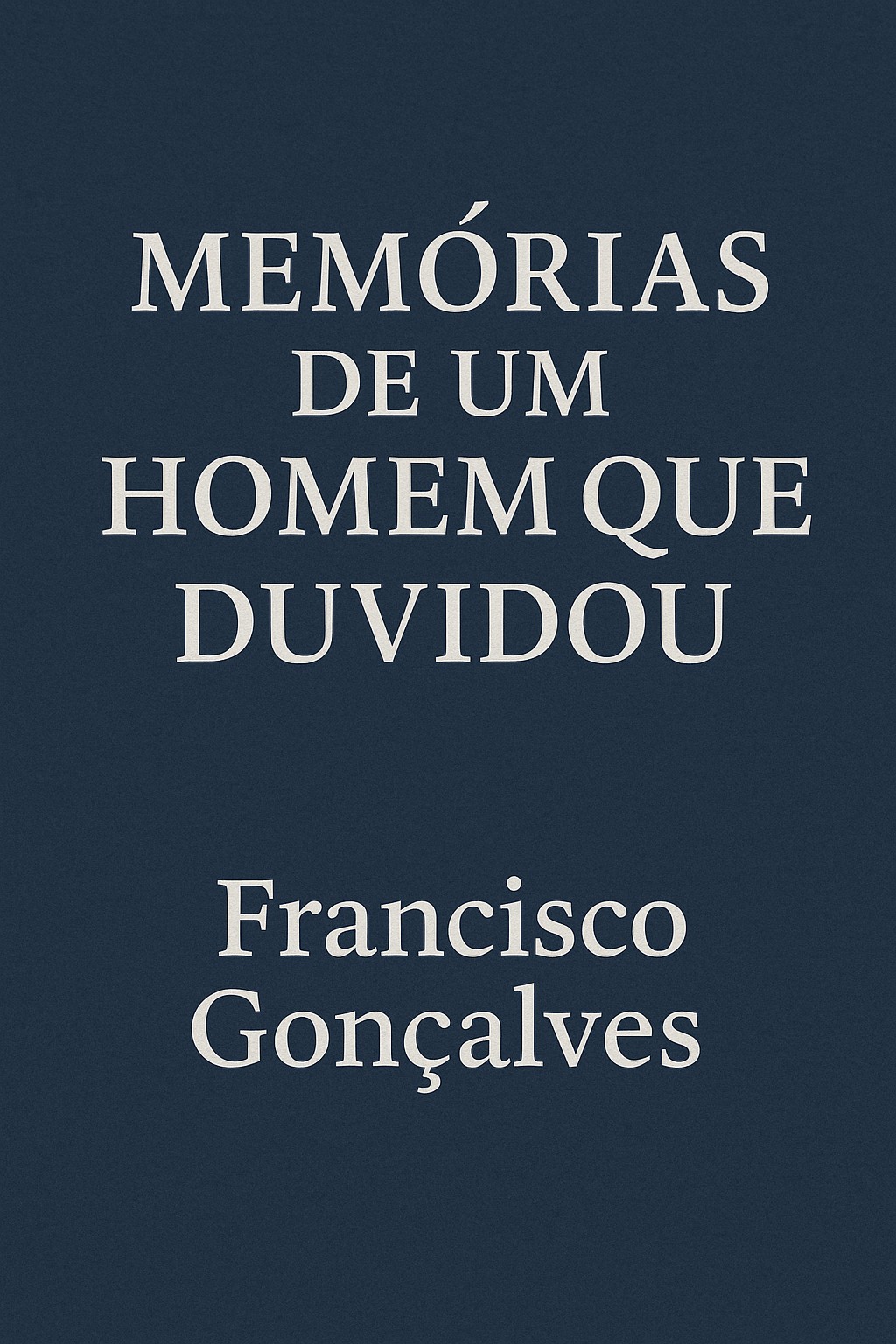Dedicatória
À memória do meu querido pai, Augusto Gonçalves Fernandes.
Exemplo de coragem, dignidade e trabalho,
que me ensinou, sem o saber,
que a verdadeira herança não está nas certezas fáceis,
mas na força de seguir em frente,
mesmo quando tudo à volta parece dúvida.
Este livro é também teu.
Sumário
Dedicatória .......................................................... vii
Capítulo 1 – Nasci a Duvidar ........................................ 1
Capítulo 2 – O Jovem que Duvidava ............................... 9
Capítulo 3 – Lisboa: A Cidade que Abriu o Horizonte ........... 17
Capítulo 4 – O Mundo do Código e a Ciência como Pátria ....... 25
Capítulo 5 – Entre Dúvida e Liberdade ........................... 33
Capítulo 6 – Portugal no Espelho da Mediocridade .............. 41
Capítulo 7 – Aos 68 Anos: O Mistério do Homem que Acredita .. 49
Epílogo – A Dádiva da Dúvida .................................... 57
Capítulo 1
Nasci a Duvidar
Nasci num tempo e num lugar onde tudo parecia ter uma explicação pronta, dada de antemão, como receita imutável. As crianças não precisavam de perguntar — os adultos já tinham a resposta. As respostas eram sempre simples, embaladas em histórias: os bebés vinham no bico da cegonha, o Menino Jesus descia do céu com presentes, Deus estava em toda a parte e tinha um plano para cada um de nós.
Mas eu, desde muito cedo, parecia ter nascido vacinado contra a crença. O meu crivo interior não deixava passar essas narrativas como verdades. Ouvi-las era como ouvir contos encantados: divertiam, mas não convenciam. O meu espírito, ainda pequeno, recusava aceitar sem prova aquilo que me parecia apenas invenção.
Recordo noites de infância, deitado, a olhar o teto antes de adormecer, quando a imaginação me levava para perguntas maiores do que eu: o que é existir? O que é sentir? O que acontece quando morremos? O que é o nada? Não tinha estudado filosofia, nem física, nem biologia, nem matemática, mas já me interrogava como se a vida fosse um enigma que eu precisava de decifrar.
Enquanto os outros aceitavam, eu duvidava. Não era rebeldia, era uma inclinação natural, uma urgência lógica que me vinha de dentro. A dúvida era, para mim, mais confortável do que a crença. Onde os outros viam mistério sagrado, eu via incoerência. Onde diziam haver milagres, eu pressentia apenas fantasia.
Mais tarde, a escola trouxe-me palavras e teorias. A filosofia ensinou-me que outros, séculos antes, já tinham perguntado as mesmas coisas. A ciência mostrou-me que as explicações não precisavam de deuses, mas de métodos e provas. A matemática deu-me a disciplina de pensar com rigor. E tudo isso só confirmou aquilo que a minha mente infantil já intuía: que a vida não tem respostas prontas, que a verdade não se impõe pela fé, mas se procura pela razão.
O que me intrigava, e ainda me intriga, é perceber como tantas pessoas — mentes supostamente iguais à minha, algumas até mais instruídas — podiam persistir em acreditar em histórias frágeis, mesmo depois de tantos anos de estudo. Como podem aceitar por hábito o que a lógica desmente? Como podem abraçar certezas sem prova, só porque sim?
Talvez aí esteja o verdadeiro mistério da humanidade. Não é Deus, nem os milagres, nem a eternidade da alma. O mistério é o homem que acredita sem precisar de prova. O mistério é a necessidade de consolo ser mais forte do que a sede de verdade.
E assim cresci: entre as serras e aldeias da Beira, rodeado de crenças e tradições, mas sempre com o espírito da dúvida como bússola. Enquanto muitos encontravam paz na fé, eu encontrava sentido na pergunta. Nasci a duvidar — e essa dúvida seria, para sempre, a minha companheira.
Capítulo 2
O Jovem que Duvidava
A adolescência não me trouxe certezas, trouxe-me mais perguntas. Enquanto muitos à minha volta se conformavam com a rotina e as tradições, eu continuava a sentir o peso da dúvida como parte natural do meu ser.
Belmonte, onde vivi esses anos, era um lugar pequeno, marcado pela força da religião e pela sombra da autoridade. O padre, o professor e o regedor local eram figuras quase sagradas. A maioria dos meus colegas ia à missa, mas eu não. Só marcava presença nas festas da aldeia dos meus avós — e mesmo aí ficava cá fora, afastado do ritual, em silêncio. Claro que isso não era bem visto, mas nunca tive consequências diretas. Havia um respeito implícito aos meus pais, que me resguardava.
Essa distância física refletia o meu distanciamento interior. Não me revoltava em público, mas dentro de mim questionava cada gesto, cada dogma repetido. O mundo parecia aceitar por hábito o que a minha mente recusava por lógica. Como podia Deus estar presente em tudo e, ainda assim, permitir tanta miséria, tanta injustiça, tanto sofrimento calado?
Foi também em Belmonte que aprendi o valor de pensar em silêncio. Naquela época, falar de política era arriscado, criticar a Igreja era quase blasfémia. Aprendi cedo que a dúvida precisava de ser guardada, maturada, cultivada como uma semente clandestina. Era um treino de pensamento solitário — duro, mas formador.
Ao mesmo tempo, descobria as primeiras leituras que me abriam janelas: livros de ciências, revistas que falavam de astronautas e de novas descobertas, relatos que me faziam sentir parte de um mundo maior do que a aldeia e os seus rituais religiosos. Essas leituras davam-me oxigénio, confirmavam que a dúvida não era defeito, mas uma força.
Na escola, entre colegas e professores, aprendi a disfarçar. Enquanto os outros repetiam respostas decoradas, eu tentava perceber o sentido por trás das fórmulas. Enquanto muitos aceitavam sem questionar, eu intuía que o verdadeiro aprender estava em duvidar.
E assim cresci: por fora, integrado numa comunidade tradicional; por dentro, cada vez mais distante das suas certezas. A adolescência em Belmonte foi um tempo de máscaras e de revelações: máscara para sobreviver ao ambiente conservador; revelação íntima de que a dúvida seria a minha herança mais valiosa.
Quando finalmente deixei Belmonte, senti que estava a soltar amarras. Mas trouxe comigo algo que nunca deixei para trás: a consciência de que ser diferente, pensar diferente, é caminhar muitas vezes sozinho. E essa solidão, aprendi cedo, é o preço da liberdade interior.
Capítulo 3
Lisboa: A Cidade que Abriu o Horizonte
Deixar Belmonte foi como soltar uma âncora que me prendia a um mundo pequeno, onde a dúvida tinha de ser sussurrada. Lisboa, ao contrário, era um mar aberto, ruidoso e cheio de movimento. A cidade parecia respirar de outro modo, mais acelerado, mais intenso, mais livre.
Instalei-me na Cruz de Pau, em casa de familiares, e a partir dali começou uma rotina que ainda guardo com nitidez: apanhar a camioneta, atravessar o Tejo de barco, seguir até à Rua Castilho, onde a Informax me esperava com um universo novo — a programação. Esses trajetos, longos e repetidos, eram mais do que deslocações: eram ritos de passagem. Deixava para trás o adolescente das serras da Beira e transformava-me, pouco a pouco, num homem do futuro.
Na Informax descobri a magia do código. Para mim, não era apenas um conjunto de instruções para máquinas: era música, era lógica pura a transformar-se em criação. A programação era uma extensão natural daquela dúvida que me acompanhava desde criança. Se a vida me parecia um enigma, o código era a prova de que enigmas podiam ser resolvidos — bastava encontrar a lógica certa, o algoritmo preciso.
Lisboa também era a cidade das contradições. Havia modernidade, mas também atraso. Havia debates acesos, mas ainda medo de dizer certas palavras. O 25 de Abril tinha aberto as portas da liberdade, mas a cultura da reverência ainda estava entranhada no país. Senti, mais do que nunca, que Portugal estava suspenso entre dois mundos: o da tradição rígida e o da modernidade titubeante.
Para mim, essa transição foi libertadora. Pela primeira vez, senti que a minha forma de pensar não era um fardo, mas um valor. Descobri pessoas que também questionavam, que também duvidavam, que também procuravam novos caminhos. Lisboa mostrou-me que não estava sozinho.
Mas Lisboa também me deu uma lição: duvidar pode ser libertador, mas tem custos. A dúvida não dá comunidade pronta, não dá rituais reconfortantes, não dá certezas fáceis. A dúvida dá solidão e liberdade. E foi nesse espaço — solitário, mas fértil — que comecei a desenhar o caminho da minha vida adulta: entre a ciência e a filosofia, entre o trabalho e a família, entre a busca de sentido e a recusa de ilusões.
Foi assim que Lisboa se tornou o meu grande horizonte: não apenas uma cidade, mas um símbolo de passagem — da infância da dúvida para a maturidade da escolha consciente.
Capítulo 4
O Mundo do Código e a Ciência como Pátria
Foi em Lisboa que descobri que a dúvida podia transformar-se em criação. Se na infância ela era apenas uma força inquieta, na juventude tornou-se método, e na programação ganhou forma concreta: linhas de código que obedeciam à lógica e transformavam abstrações em realidade.
A Informax foi o meu laboratório de iniciação. Ali aprendi que a máquina não aceitava dogmas: só aceitava lógica. Um erro não era castigo divino, era apenas consequência de uma instrução mal escrita. Uma correção não era penitência, era ajuste de raciocínio. O computador era, de certa forma, o juiz perfeito — imparcial, insensível a hierarquias ou reverências, apenas fiel à coerência.
Foi nesse ambiente que senti pela primeira vez a música da programação. Cada algoritmo era como uma partitura invisível que, bem escrita, se transformava em harmonia. Programar era compor com lógica, era transformar dúvida em clareza. E ao contrário das crenças herdadas, aqui cada resultado podia ser provado, testado, replicado. A verdade não estava nos altares nem nos discursos — estava no funcionamento do programa.
Ao mesmo tempo, a ciência foi-se impondo como a minha pátria verdadeira. Não uma ciência fria, mas uma ciência que se confunde com filosofia, com curiosidade, com busca de sentido. Onde outros viam fórmulas e números, eu via explicações que libertavam: as leis da física, a beleza da matemática, a biologia que mostrava a vida sem necessidade de milagres.
Enquanto muitos se agarravam às velhas certezas religiosas e políticas, eu encontrava nas certezas relativas da ciência uma forma mais honesta de estar no mundo. A ciência não prometia eternidade, mas oferecia conhecimento. Não oferecia consolo, mas dava compreensão. E para mim, compreender era melhor do que consolar.
Aos poucos, percebi que o meu lugar não era nas hierarquias sociais e políticas, mas no universo vasto da lógica e da criação. O código e a ciência eram a minha pátria invisível — uma pátria que não tinha fronteiras nem bandeiras, mas que me oferecia algo mais sólido do que qualquer mito: a clareza do pensamento e a beleza da dúvida transformada em obra.
Capítulo 5
Entre Dúvida e Liberdade
A entrada na vida adulta trouxe-me novas responsabilidades e, com elas, novas formas de colocar à prova a dúvida que sempre me acompanhara. O casamento, a chegada dos filhos, o peso das escolhas de trabalho e de sustento — tudo isso parecia exigir certezas, mas eu continuava a viver num território de interrogações.
Ser marido e pai não apagou a dúvida, mas deu-lhe outro significado. Já não era apenas o exercício filosófico do jovem que questionava o universo; era agora também o exercício íntimo de quem queria ser justo, honesto, verdadeiro com aqueles que dependiam de si. Descobri que duvidar não era fraqueza: era procurar o melhor caminho, mesmo quando não havia mapas.
No trabalho, a dúvida manteve-se bússola. Enquanto muitos aceitavam ordens cegamente ou se contentavam com hierarquias, eu não conseguia calar a necessidade de pensar diferente, de propor alternativas, de resistir à mediocridade. Isso trouxe-me oportunidades, mas também conflitos. Viver na dúvida é, muitas vezes, viver em descompasso com um mundo que prefere o conforto da obediência.
Na família, a dúvida foi, paradoxalmente, fonte de firmeza. Nunca prometi aos meus filhos milagres nem destinos traçados. Prometi-lhes apenas que a vida é feita de escolhas, de trabalho, de honestidade — e que a dúvida pode ser uma força para descobrir caminhos próprios. Ensinei-os, tanto quanto pude, a pensar por si mesmos, a não se deixarem enredar em dogmas.
Foi também neste tempo que percebi que liberdade e dúvida são irmãs inseparáveis. Só é verdadeiramente livre quem duvida, quem questiona, quem não aceita verdades impostas. A liberdade não nasce do silêncio conformado, mas da pergunta ousada.
E assim, na juventude adulta, compreendi que a minha herança de menino duvidoso não era peso, mas dádiva. Ser marido, ser pai, ser profissional num país tantas vezes sufocado por dogmas e mediocridade — tudo isso me mostrou que a dúvida não apenas me fazia diferente, mas também me fazia livre.
Capítulo 6
Portugal no Espelho da Mediocridade
A minha vida adulta coincidiu com um país em transformação. O 25 de Abril trouxe a liberdade que tanto nos faltava, mas com ela veio também a revelação de que a liberdade, por si só, não garante grandeza. Portugal libertou-se da ditadura, mas não se libertou da mediocridade.
As décadas que se seguiram foram de promessas e desilusões. Vi governos a proclamarem reformas que nunca se cumpriam, vi partidos a trocarem lugares e favores como quem dança cadeiras, vi a excelência ser afastada para dar lugar à obediência. Portugal parecia viver num teatro onde a peça mudava de atores, mas o enredo permanecia o mesmo: conservar privilégios, distribuir tachos, manter o povo entretido.
Na gestão pública e privada, assisti ao triunfo dos “gestores de gabinete”. Economistas recém-saídos das universidades, formados nos catecismos da teoria, eram colocados à frente de empresas e instituições que desconheciam por completo. A lógica da política confundia-se com a da gestão: não importava a experiência, mas a fidelidade partidária. O resultado foi a erosão lenta e constante das nossas estruturas. Hospitais, empresas públicas, autarquias, tudo se transformava em palco de mediocridade e promiscuidade.
Vi também como o país desperdiçava talentos. Jovens brilhantes, com ideias e coragem, eram esmagados pela cultura hierárquica e reverencial. A fuga de cérebros não era acaso: era consequência. Quem ousava questionar, quem ousava inovar, acabava por partir. Os que ficavam eram muitas vezes forçados a escolher entre a resignação e o exílio interior.
Portugal, no espelho da mediocridade, mostrava um rosto cansado, conformado, sem brilho. Não nos faltava inteligência, não nos faltava criatividade — faltava-nos coragem. Coragem para romper com o sistema de favores, coragem para exigir competência, coragem para premiar a excelência.
Ainda hoje, ao olhar para trás, sinto essa ferida aberta. Um país que poderia ser grande, mas que se contenta com pouco. Um povo que poderia exigir mais, mas que aprendeu a sobreviver com menos. Portugal, a minha terra, continua refém de um destino que ele próprio aceita sem luta. No fim, não nos faltava criatividade — apenas um país que a acolhesse.
Capítulo 7
Aos 68 Anos: O Mistério do Homem que Acredita
Cheguei aos 68 anos com a mesma dúvida que me acompanhou desde criança, mas agora mais amadurecida, mais consciente da sua força e da sua solidão. Já percorri caminhos, já vivi amores, já vi nascer e crescer filhos, já assisti à morte de quem me deu a vida. Vi o país mudar e ficar igual. Vi o mundo correr para o futuro e tropeçar no passado. E no meio de tudo, continuo a perguntar-me: porque acreditam as pessoas?
Esse é, para mim, o grande mistério da humanidade. Não é a existência de Deus, não é a eternidade da alma, não são os milagres proclamados. O mistério é o homem que acredita sem prova, que se entrega ao “porque sim” com a mesma naturalidade com que respira.
A minha mente nunca conseguiu aceitar essa simplicidade. Sempre precisei de verificar, testar, confirmar. Se algo não resistia à lógica, para mim não podia ser verdade. Mas ao longo da vida percebi que, para muitos, a lógica não pesa tanto como o consolo. Que a fé não é questão de verdade, mas de necessidade.
Aos 68 anos, compreendo melhor esse impulso humano. A crença dá pertença, dá ritual, dá esperança. A dúvida dá apenas liberdade e verdade. E a liberdade, tantas vezes, é um fardo solitário. Talvez por isso tantos prefiram a fé: porque ela os ampara, porque os integra, porque os consola.
Mas mesmo compreendendo, não consigo partilhar. Continuo a olhar para o céu da noite e a sentir não a presença de um deus, mas o silêncio imenso do universo. Continuo a pensar na vida como breve lampejo entre dois nadas. Continuo a acreditar apenas na dúvida como caminho.
E se há algo que aprendi nestes anos todos é que duvidar não é viver sem sentido. É viver à procura do verdadeiro sentido. É aceitar que a verdade não é dogma revelado, mas obra em construção. É reconhecer que o mistério não está nos deuses, mas no homem que ainda precisa deles.
Aos 68 anos, a dúvida não me pesa: liberta-me. Ela é o fio que me trouxe até aqui e que me continuará a guiar até ao fim. Porque, no fundo, a maior certeza que encontrei foi esta: a dúvida é a forma mais honesta de viver.
Epílogo
A Dádiva da Dúvida
Ao olhar para trás, percebo que a dúvida não foi apenas uma característica minha — foi a minha companheira, a minha bússola e a minha forma de verdade. Desde a infância em que recusei as histórias encantadas até à maturidade em que continuo a interrogar o sentido da existência, a dúvida esteve sempre comigo, como sombra e como luz.
Muitos dirão que viver na dúvida é viver inquieto, sem paz. Talvez. Mas também é viver desperto, sem ilusões. A dúvida não me deu certezas fáceis, mas deu-me liberdade. Não me deu rituais de consolo, mas deu-me autenticidade. Não me deu respostas prontas, mas deu-me o prazer de procurar.
O que aprendi é simples: a dúvida não é ausência de fé, é outra forma de fé. Fé no pensamento, fé na razão, fé na capacidade humana de compreender um pouco mais a cada dia. É uma fé sem dogmas, uma fé que não promete eternidade, mas que se contenta com a beleza do instante e a grandeza da pergunta.
Se a vida é breve, que seja vivida com lucidez. Se a morte é o nada, que o tudo que temos seja mais intenso. Se a verdade é esquiva, que a procura seja já um modo de a honrar.
Aos que preferem as certezas, compreendo-os: as certezas dão calor. Mas eu escolhi o frio cristalino da dúvida, porque nele encontro a clareza que me faz viver de olhos abertos.
E assim termino este percurso: não com respostas definitivas, mas com a convicção de que a dúvida é a dádiva maior que um homem pode receber. Porque duvidar é a forma mais honesta — e mais livre — de viver.